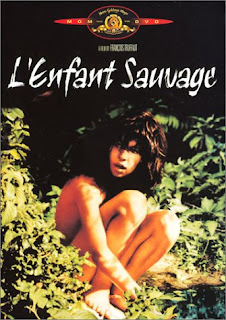As perspectivas dos filósofos atuais para a educação são, obviamente determinadas pelas tendências contemporâneas da filosofia, que expressam a profunda consciência da crise que afeta a cultura, em geral, e a instituição educativa e o discurso pedagógico, em particular. Com isso, expressam também o velho problema da educação, que segundo Kant envolve o paradoxo de ter de educar um homem para sua humanidade sem saber verdadeiramente o que é ou deve ser o Homem.
“O enigma da infância”, pode ser um dos tantos panos de fundo para uma aproximação com infância sob o ponto de vista da filosofia pelo olhar de J. Larrosa. Para ele, apesar de todo o conhecimento que se tem a respeito da criança - livros de psicologia para conhecer seu peculiar modo de ser, sentir, pensar e se expressar, para entender suas satisfações, seus medos e suas necessidades; estudos sociológicos para saber de seu desamparo e abandono; especialistas que dizem o que são e querem as crianças; produtos que vendem objetos de desejos os mais variados para crianças; produções culturais nas mais diversas linguagens que buscam entreter e educar crianças; espaços da cidade organizados para elas; projetos e políticas públicas voltados para a infância; profissionais de diferentes campos do saber que trabalham com elas; escolas e professores empenhados em ensinar e avaliar suas aprendizagens - ainda assim não se consegue capturar o que seja uma criança.
Se tentarmos saber o que são as crianças para com ela estabelecer relações e se entendermos a infância como algo que nossos saberes e nossas práticas permitem explicar e nomear para poder acolher e intervir, podemos dizer que sabemos o que são as crianças e o que é a infância. Mas o desafio é desinstalar tais saberes para pensar a infância como “um outro” que não se deixa capturar, que inquieta nossos saberes, que questiona nossos poderes, que contradiz nossas práticas e que mostra os vazios das nossas acolhidas.
“Pensar a infância como um outro é, justamente, pensar essa inquietação, esse questionamento e esse vazio”, diz Larossa. Assim, a infância pode ser entendida como o que ainda não sabemos, como o que escapa de nossas certezas, lógicas e objetivações, pois a alteridade da infância seria sua absoluta heterogeneidade em relação a nós e ao nosso mundo. E aí reside a vertigem, pois a alteridade nos leva a um lugar em que as medidas de nosso saber e poder não mais comandam. Afinal, ao mesmo tempo em que a infância não é apenas o que sabemos, ela também é portadora de certas verdades que devemos escutar para estar em condições de decifrar pelo menos alguns de seus enigmas, e para no mínimo, assumir a medida de nossa responsabilidade pela resposta que o enigma carrega consigo.
E isso interpela a educação, pois como diz Hanna Arendt, “a educação onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante par anão expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para tarefa de renovar um mundo comum”. Para a autora, criança tem a ver com nascimento, com o novo. E nascimento é acontecimento, é começo e continuidade que também pode ser perda e descontinuidade. E a educação faz essa mediação entre o velho e o novo no modo como as pessoas, instituições e sociedades recebem, acolhem e respondem àqueles que nascem. Acolher é assumir a responsabilidade de abrir um espaço àquele que chega para habitar conosco trazendo a possibilidade do imprevisto e inesperado. Por isso não podemos reduzir a infância a algo que já sabemos tudo de antemão nem de convertê-la na expectativa de realização de nossas previsões e desejos pois ela nos escapa.
Dessa forma podemos nos perguntar até que ponto a educação entendida como realização de um projeto, reduz a novidade da infância e reconduz às condições existentes e deixando de perceber o campo de possibilidades do enigma que nos interpela? Em resposta, podemos entender a infância não no que dizemos dela ou sobre ela, mas no que ela nos diz no acontecimento de sua presença entre nós como algo novo e, ainda que revele algumas faces, conserva um “tesouro oculto de sentido”.
Para tal reconhecimento há que haver alguns encontros, tanto com a criança que fomos quanto com o outro. Nessa experiência, enfrentar o outro pode significar deixar-se levar ao encontro e estar disposto a se transformar numa direção desconhecida. Mas será que a educação pode/consegue/deve deixar-se transformar pelas verdades que cada nascimento traz?
O outro pano de fundo para discutir o olhar da filosofia sobre a infância pode ser a idéia de “educar para a alegria”, defendida por Robert Misrahi, filósofo francês marcado pelo existencialismo de Sartre e profundo entendedor do pensamento de Espinosa. Para ele, na época contemporânea, homem é desejo que só pode ser compreendido por sua relação com a alegria. Sendo inseparável da inteligência e da consciência, desejo é significação.
“Desejar é algo que se aprende”, diz o filósofo e a tarefa da educação é detectar o caminho que permite às consciências dominar o seu desejo, mas não no sentido de reprimir: “o domínio do desejo consiste antes em fazer intervir a reflexão para informar, o tornar consciente de si mesmo e lhe poupar falsos passos”. Assim, ele defende que a educação deveria desenvolver o sentido da felicidade como uma espécie de atenção e perspicácia dirigida a si próprio e à vida, e com isso despertar a criança para o seu próprio desejo, pois é ele que conduz à alegria. Mas ele enfatiza que isso não significa desordem passional, pois desejo é inteligência e ao desenvolver personalidades a educação pode despertar para alegria compreendendo que esta não pode se realizar sem conhecimentos.
Conhecimentos são instrumentos que a educação deve dar à criança considerando que a finalidade destes saberes deveria ser a felicidade, e isso também envolve a possibilidade de desenvolver o sentido de responsabilidade para descobrir o seu potencial de ação sobre si própria e não apenas para que se insira em um grupo. Para Misrahi, a responsabilidade da educação é com o “homem total”, deveria formar gerações para a alegria e não apenas para o trabalho, pois da mesma forma que precisamos de educação científica, necessitamos de educação artística, pois só ela permite a consciência se libertar de certos interesses e alimentar tanto o desejo como o pensamento.
Enfim, se a educação tantas vezes sobrecarrega a infância excedendo-se com suas certezas na transmissão de conhecimentos e retirando o melhor das crianças - sua imaginação, seu desejo, sua fantasia e invenção e sua novidade do mundo -, fica o desafio de aprender a decifrar os enigmas e desejos.
Foto: Pedra de Roseta